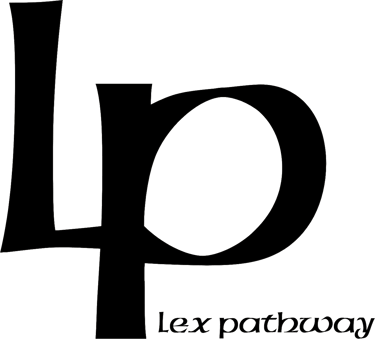A Execução de Sentença Penal Estrangeira no Brasil: Possibilidades, Limites Constitucionais e Implicações Geopolíticas
Rogério Santos do Nascimento, Advogado
1. Introdução
A execução de penas criminais impostas por sentenças estrangeiras, embora tecnicamente viável no ordenamento jurídico brasileiro, revela-se terreno sensível à luz da Constituição Federal, do Código Penal e da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), especialmente no tocante à soberania nacional, aos direitos fundamentais e ao princípio da reciprocidade. A análise aprofundada deste instituto revela tensões latentes entre os compromissos internacionais do Brasil e as garantias constitucionais aos seus nacionais, circunstância que ganha especial relevo quando o condenado é agente público de alta patente, acusado de delitos de projeção internacional, inclusive contra cidadãos de outros países.
2. A Transferência de Execução da Pena Estrangeira e o Artigo 100 da Lei de Migração
O artigo 100 da Lei nº 13.445/2017 prevê a possibilidade de transferência da execução da pena imposta por sentença penal estrangeira, desde que preenchidos requisitos cumulativos: (i) nacionalidade brasileira ou vínculo com o Brasil; (ii) trânsito em julgado da sentença; (iii) pena remanescente de, no mínimo, um ano; (iv) dupla tipicidade do fato; e (v) existência de tratado ou promessa de reciprocidade.
Trata-se de medida de natureza cooperativa, que visa garantir a efetividade da jurisdição penal internacional, sobretudo em contextos nos quais a extradição não é possível, como no caso de nacionais brasileiros natos, protegidos pelo art. 5º, LI, da Constituição Federal.
Ademais, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, promulgada pelo Decreto nº 5.919, de 3 de outubro de 2006, o que evidencia sua adesão formal a mecanismos multilaterais de cooperação penal. Tal convenção autoriza a transferência e execução de sentenças penais entre Estados membros da OEA, desde que observados requisitos como a dupla tipicidade, consentimento do condenado e nacionalidade do Estado receptor.
Ainda que os Estados Unidos não tenham aderido a esse tratado, sua existência reforça o dever do Brasil de estruturar mecanismos normativos internos compatíveis com a lógica da cooperação internacional e da responsabilidade estatal no combate à impunidade.
Todavia, como alerta o próprio Ministério Público Federal, não há previsão legal nos Estados Unidos para transferência de execução da pena nos moldes propostos pela legislação brasileira, o que torna esse caminho legalmente inócuo em diversas hipóteses. O MPF registra que os EUA, a Espanha, a França e o Uruguai não reconhecem essa forma de cooperação, o que gera um impasse jurídico e diplomático, sobretudo em crimes transnacionais de alta gravidade.
Além disso, a impossibilidade de extradição de nacionais brasileiros impõe, por interpretação sistemática, a necessidade de aprimoramento legislativo do artigo 100, de modo a torná-lo mais eficiente como mecanismo substitutivo à extradição executória. O princípio aut dedere aut judicare, extraditar ou julgar — é o alicerce dessa discussão e impõe aos Estados uma alternativa responsável: cooperar com a justiça internacional, mesmo diante das vedações constitucionais de entrega de nacionais.
3. As Três Situações de Execução de Sentença Penal Estrangeira no Brasil
3.1. Primeira Situação – Nacional brasileiro condenado no exterior e transferido para cumprimento da pena no Brasil
Esta hipótese é a mais comum e socialmente aceitável: trata-se do brasileiro condenado no estrangeiro, por sentença transitada em julgado, que solicita cumprir sua pena em solo nacional por razões humanitárias. O instituto, de cunho ressocializador, é previsto em tratados bilaterais (como o que o Brasil mantém com os Países Baixos) ou com base em promessa de reciprocidade.
O processo é conduzido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça, e pode ser iniciado por pedido do próprio condenado, em coordenação com os Ministérios das Relações Exteriores e Justiça.
A jurisprudência do STJ, nesse sentido, tem sido uniforme em acolher a homologação da sentença penal estrangeira, desde que haja manifestação de vontade do condenado e cumprimento dos requisitos legais, como no caso de brasileiros detidos em países da Europa ou América Latina.
3.2. Segunda Situação – Brasileiro julgado à distância, mas sem possibilidade de execução no Brasil
Neste cenário, o nacional brasileiro é investigado e julgado à revelia ou representado no exterior, mas reside ou permanece no Brasil. Embora a sentença tenha transitado em julgado no país estrangeiro, o Estado brasileiro não pode extraditá-lo por força do art. 5º, LI, da Constituição Federal — que veda expressamente a extradição de nacionais, salvo nos casos excepcionais de naturalizados que tenham praticado crime antes da naturalização ou de tráfico internacional.
A jurisprudência da Suprema Corte é clara: ainda que o Brasil receba o pedido de execução da pena estrangeira, não está juridicamente obrigado a concedê-la, salvo se houver tratado internacional específico, reciprocidade expressa ou interesse soberano do Estado. O risco de se transformar o Judiciário brasileiro em mero “órgão executor” de sanções penais internacionais é, aqui, evitado por fundamentos constitucionais robustos.
Essa hipótese pode ganhar contornos dramáticos no plano político-diplomático, quando a condenação envolve crimes digitais praticados contra cidadãos estrangeiros por agentes públicos brasileiros. Nesse contexto, a negativa da execução da pena pode ser interpretada internacionalmente como impunidade endêmica — o que compromete a imagem do Brasil em fóruns multilaterais.
É nesse cenário que se revela oportuna a provocação legislativa: reformar o artigo 100 da Lei de Migração para estabelecer procedimento obrigatório de apuração interna (processo penal autônomo ou homologação judicial compulsória) em caso de impedimento constitucional à extradição, quando o réu for condenado por crimes transnacionais de alta gravidade.
3.3. Terceira Situação – Réu representado, condenado no exterior, mas que jamais esteve fisicamente no país sentenciante
É cada vez mais comum o ajuizamento de ações penais internacionais contra indivíduos que, por meios digitais, violam leis estrangeiras sem jamais terem pisado naquele território. Se o réu é representado, julgado à distância, e condenado, com ou sem revelia, o cumprimento da pena dependerá de tratado ou promessa de reciprocidade e da legislação interna do país onde ele se encontra.
A ausência de cooperação jurídica entre o país sentenciante e o Estado onde o réu reside impede a execução da pena. Em regra, o Brasil não assume essa execução, a menos que o condenado seja nacional brasileiro e manifeste vontade nesse sentido, o que dificilmente ocorrerá em condenações injustas, politicamente motivadas ou de grande repercussão internacional.
4. O Caso Robinho: Precedente Inédito e Roteiro para o Futuro
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 239.162, relatado pelo Ministro Luiz Fux, marca uma virada paradigmática. O STF homologou, por maioria, a sentença condenatória da Justiça italiana que impôs pena de reclusão ao ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, por crime de estupro coletivo. A homologação foi requerida pelo Estado estrangeiro e acatada mesmo diante da vedação constitucional à extradição de nacionais.
Segundo o voto do relator, “a não execução da pena por ausência de tratado configuraria impunidade internacional, em afronta à cooperação penal entre as nações”. O STF reconheceu a obrigatoriedade de se dar eficácia interna à sentença estrangeira, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação à impunidade e da cooperação entre Estados soberanos.
Este precedente torna-se crucial: mesmo sem tratado específico, o Brasil, ao aceitar a homologação, assume o compromisso de executar a pena em solo nacional. É a consagração do princípio aut dedere aut judicare (extraditar ou julgar), já internalizado em convenções como a de Palermo e a de Mérida.
5. O Futuro da Cooperação Penal: E se a condenação vier dos Estados Unidos?
Em um cenário geopolítico cada vez mais sensível à accountability internacional, surge uma questão provocadora, mas juridicamente plausível: poderia um juiz federal norte-americano condenar um agente público brasileiro por crimes transnacionais, como violação de dados de cidadãos americanos ou ataques a instituições internacionais sediadas nos EUA e, diante da vedação constitucional à extradição de nacionais, solicitar ao Superior Tribunal de Justiça do Brasil a execução da pena em território brasileiro?
Embora tal hipótese ainda permaneça no campo da especulação, seus contornos normativos e políticos são inquietantemente reais. A legislação brasileira já admite, em tese, a transferência da execução de sentença penal estrangeira com base no artigo 100 da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), desde que preenchidos os requisitos objetivos e haja tratado ou promessa de reciprocidade. Ocorre que os Estados Unidos não possuem tratado bilateral com o Brasil sobre execução penal estrangeira, tampouco aderiram à Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, promulgada pelo Decreto nº 5.919, de 2006.
Essa ausência formal, contudo, não representa um obstáculo intransponível. Como demonstrado na decisão paradigmática do STF no caso Robinho (HC 239.162), relatado pelo Ministro Luiz Fux, a inexistência de tratado específico não é, por si só, impeditivo da homologação de sentença penal estrangeira. O que se exige é que o pedido seja formulado pelo Estado estrangeiro interessado, devidamente instruído com a documentação necessária, e que se observe o devido processo legal perante o STJ, onde a Advocacia-Geral da União atua como legitimada ativa para formular o requerimento de homologação.
A homologação de uma eventual condenação oriunda de tribunal norte-americano, portanto, dependeria menos de acordos formais e mais da vontade soberana do Estado brasileiro de se engajar com os princípios da cooperação internacional, da responsabilidade penal e da não impunidade. Seria, sem dúvida, uma decisão de profundo impacto simbólico, jurídico e político: o Brasil, soberanamente, reconhecendo a validade de uma sentença prolatada por um tribunal estrangeiro contra um de seus próprios agentes, e assumindo o ônus constitucional de fazê-la cumprir, nos termos da lei interna.
O artigo 100 da Lei de Migração, nesse sentido, precisa ser interpretado à luz do princípio aut dedere aut judicare, consagrado em tratados multilaterais como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e a Convenção contra a Corrupção (Convenção de Mérida). Ambos os instrumentos, dos quais o Brasil e os Estados Unidos são signatários, exigem dos Estados partes o compromisso de adotar medidas eficazes para garantir que crimes transnacionais graves não fiquem impunes, mesmo diante da ausência de extradição.
Mais ainda: o inciso LI do artigo 5º da Constituição brasileira, ao vedar a extradição de brasileiros natos, não pode ser compreendido como cláusula de blindagem, mas como cláusula de responsabilidade. Se não se pode entregar, deve-se julgar; se não se pode extraditar, deve-se executar. É este o espírito da nova jurisprudência constitucional inaugurada no caso Robinho, e que, inevitavelmente, será posto à prova em casos de maior complexidade e visibilidade institucional.
Imaginemos, por exemplo, um ministro de tribunal superior, com atuação digital internacional, sendo condenado nos Estados Unidos por crimes cibernéticos ou manipulação de dados de cidadãos norte-americanos. O país condenante, respeitando os trâmites diplomáticos, solicita ao STJ a homologação da sentença para que a pena seja cumprida no Brasil. Haveria espaço político para recusar tal pedido? Haveria base jurídica sólida para ignorá-lo? Ou estaríamos, mais uma vez, diante de uma escolha entre a Constituição como abrigo da impunidade, ou como instrumento da justiça universal?
A resposta que o Brasil der a esse tipo de provocação revelará, com clareza, se estamos preparados para enfrentar a criminalidade transnacional com maturidade constitucional e compromisso global, ou se continuaremos reféns de um nacionalismo jurídico que serve mais à autoproteção dos poderosos do que à aplicação da justiça.
6. Conclusão: Entre a Soberania e a Responsabilidade Global
A análise da execução de sentença penal estrangeira no Brasil revela um sistema jurídico em transição, pressionado pelas exigências de um mundo cada vez mais interconectado e pela necessidade de romper com a lógica da impunidade seletiva. A homologação, pelo STF, da condenação do jogador Robinho, sem tratado específico, foi um divisor de águas: reafirmou o compromisso constitucional com a dignidade humana e com a jurisdição penal internacional, mesmo diante de barreiras formais e diplomáticas.
Contudo, o precedente abre caminho para questionamentos ainda mais desafiadores: estará o Brasil preparado para executar a pena de um agente político de alta patente, condenado em outro país por crimes digitais, financeiros ou contra a humanidade? A resposta ainda é incerta. Mas uma coisa é clara: não há mais espaço para o refúgio jurídico sob o pretexto da nacionalidade ou da ausência de tratados. O princípio aut dedere aut judicare deve deixar de ser apenas uma diretriz ética e converter-se em norma constitucional efetiva, que imponha ao Estado o dever de julgar quem não pode ser extraditado.
O artigo 100 da Lei de Migração precisa ser aprimorado. A cooperação jurídica internacional não pode depender apenas de vontade política ou de tratados casuísticos. A soberania não deve ser usada como escudo para a blindagem institucional, mas como instrumento de reafirmação da legalidade, da igualdade perante a lei e da confiança mútua entre as nações.
Diante da possibilidade concreta de um Estado estrangeiro, como os Estados Unidos, vir a condenar autoridades brasileiras por crimes transnacionais praticados à distância, inclusive crimes cibernéticos, o Brasil precisará escolher entre a omissão confortável e a coragem constitucional. Que a lição deixada pelo caso Robinho não se perca na conveniência política, mas sirva de paradigma para que a Justiça alcance também os poderosos.
Neste século XXI, em que os crimes transpõem fronteiras com um clique, não é mais a jurisdição que define os limites da responsabilidade, mas a disposição soberana de cada país de não ser cúmplice da injustiça. O Brasil deve se preparar, juridicamente, legislativamente e moralmente, para esse novo tempo.